“Mãe é mãe, mas também é mulher. Também é amiga. Também é filha. Também é tantas outras coisas que não enfraquecem este papel. Mãe é mãe, mas não deixa de ser.”
Ler Poema(poema inspirado na história de infertilidade da Margarida)
Quando fores mãe, vais perceber.
Costumava dizer-me a minha mãe, a meio de uma conversa.
Como se as ações de uma mãe fossem um segredo que só as mães conseguem perceber.
Aos 13 anos percebi.
Percebi que o meu maior sonho estava mais longe do que imaginava.
Síndrome de Turner.
Um nome demasiado complexo para entender,
mas com implicações bastante óbvias.
Não podia ser mãe.
Ou pelo menos, não podia sê-lo da maneira como tinha idealizado.
Como é que se diz a alguém que o seu maior sonho não se vai realizar?
Quando fores mãe, vais perceber.
Costumava dizer-me a minha mãe, a meio de uma conversa.
E eu queria tanto perceber.
Comecei os tratamentos de fertilidade com uma única certeza.
Eu ia conseguir.
Entre testes, perguntas, métodos e conclusões, não havia espaço para dúvidas.
Eu ia conseguir.
Até chegar o primeiro não.
Até ser confrontada com o fracasso.
Reuni-me da coragem necessária para voltar a tentar e fui.
Antes de os tratamentos começarem, perguntaram-me se eu tinha algum pedido.
Tudo o que eu quero é que ele seja saudável.
Foi a única coisa que pedi.
E há realmente qualquer coisa que acontece quando ouvimos o primeiro choro.
Quando percebemos que aquele choro é nosso.
Que veio de dentro de nós.
O meu filho estava ali, nos meus braços.
Veio para mostrar que a espera tinha valido a pena.
Que a persistência tinha valido a pena.
E que afinal, não há nada de errado em sonhar.
Quando fores mãe, vais perceber.
Costumava dizer-me a minha mãe.
A minha mãe, no meio de uma conversa.
E eu percebi.
Realmente, o amor de uma mãe é um segredo.
Que só as mães conseguem perceber.
(poema inspirado na história de depressão pós-parto da Lorena)
Mãe é mãe.
Ouvia eu dizer desde o primeiro dia.
Como se gerar uma vida fosse uma função que nos desvinculasse de tudo o que fizemos até então.
Quando pensei em engravidar, tinha uma ideia muito romântica da maternidade.
Flores.
Mundo cor-de-rosa.
E felicidade extrema eram os versos do poema que escrevi na minha cabeça.
Eu estava a deixar de ser
para me transformar naquilo que queriam que eu fosse.
A maternidade deixou de ser um sonho.
E transformou-se numa das realidades mais duras que já vivi.
Não era nada daquilo que tinha idealizado.
Não era nada daquilo que eu achava que iria viver.
De repente, és só tu e o teu bebé.
Horas e horas, dias e dias.
De repente, transformas-te numa pessoa que não conheces.
E conheces outra.
Que decidiste criar.
Mãe é mãe.
Ouvia eu dizer desde o primeiro dia.
Não.
Mãe é mãe.
Mas também é mulher.
Também é amiga.
Também é tantas outras coisas que não enfraquecem este papel.
Mãe é mãe.
Mas não deixa de ser.
Não foi fácil aceitar que a maternidade não era aquilo que eu tinha idealizado.
Que o amor demorou a chegar.
Mas que agora não para de crescer.
Mas foi preciso ajuda.
Para entender tudo isto.
Foi preciso enfrentar a solidão.
E procurar respostas no colo de outras pessoas.
Costumam dizer que quando nasce um bebé, também nasce uma mãe.
E eu nasci com o meu filho.
Por muito que tenha sido uma semente difícil de semear.
Um poema difícil de escrever.
Mas hoje sei que é o poema mais bonito que já vivi.
Falar de maternidade na primeira pessoa é, quase sempre, uma enchente de amor, de fascínio, de encantamento. Não é esta a história de Lorena. Dela ouvimos um relato franco, uma versão da realidade que é muitas vezes mascarada pelas expectativas que a sociedade põe numa mãe.
Partimos da intervenção da psicóloga que a acompanha neste percurso: “É muito mais fácil verbalizar a parte romântica da maternidade, a descrição da bolha de amor, o dizer que tudo é incrível e melhor do que o que tinham idealizado.” A realidade, muitas vezes, não corresponde. E Lorena está mais do que disponível para nos conduzir pelo reverso da medalha.
A gravidez foi planeada, mas o plano não incluía que acontecesse no mês imediatamente a seguir a deixar de tomar a pílula. Apesar de “em choque”, por contar com mais tempo para se mentalizar, a gravidez “foi ótima” e começou a criar “uma utopia romântica” de como seria a maternidade. Até ao aproximar do parto.


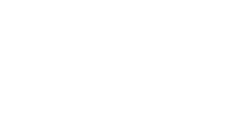
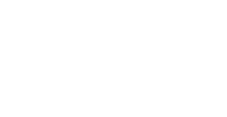
Com um bebé grande e, admite, sem grande preparação, Lorena viu-se a braços com decisões que não esperava tomar e que lhe fizeram “cair a ficha”: o parto teve de ser agendado e induzido, tiveram de optar por cesariana e, no momento da amamentação, percebe pelas “dores indescritíveis” que teriam de optar por fórmula: “Ter de dar este passo foi um processo muito doloroso para mim, porque tive de quebrar esse laço, essa conexão.”
Já em casa, a privação de sono e um bebé que chegou a chorar “sete horas seguidas”, sem que o conseguisse perceber ou acalmar, levam Lorena a “um buraco à séria”, onde se sentia “arrependidíssima, infelicíssima, sem instinto maternal”. As discussões com o marido – “mais em três meses do que em não sei quantos anos de relação” e a resistência que fez ao mantra “quando nasce um bebé nasce uma mãe”, levam-na a procurar ajuda especializada, para ouvir da psicóloga o que todas as mães deveriam saber: a realidade do que estava a viver é mais comum, só não é tão falada quanto deveria.
De tudo o que me disseram, a única coisa que consigo confirmar é que é, de facto, um amor em crescendo.
Passados dez meses desde o nascimento do filho, consegue agora traçar de forma clara o perfil daquilo que é a maternidade, e da complexidade que é muitas vezes omitida em prol da imagem de perfeição. Uma das facetas mais dolorosas é a perda de identidade, e enumera-nos alguns exemplos: como foi “crucificada” quando quis voltar ao trabalho, mesmo que estivesse a “odiar ser mãe a tempo inteiro”; como se alega o “mãe é mãe”, mas ao pai não se imputa o equilíbrio na parentalidade; como em todos os sítios passa a ser “mãe de”, e não tratada por nome próprio.
“Para mim, um bebé era um complemento muito grande da minha união, que vinha acrescentar em tudo, nunca subtrair. E o que senti, durante muito tempo, é que houve uma subtração gigante da minha pessoa”, resume. Este sentimento de subtração faz com que reitere, de forma perentória: “Hoje em dia, não mudava uma vírgula ao meu bebé; mas só me comecei a apaixonar por ele quando tinha 5 meses, e agora tem 10”. E justifica: “Nos primeiros meses, estás só ao serviço. Dás, mas não recebes, não tens um retorno.”

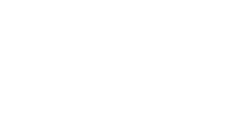
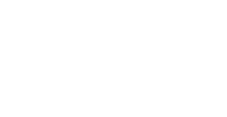

Para Lorena, quando alguém se torna mãe, e depois do entusiasmo inicial pelo novo bebé, o processo torna-se progressivamente mais solitário. Recorda as “horas sem fim, sozinha em casa, num suplício”, e o desejo constante de que o telefone tocasse. Mas, “talvez por assumirem que estás feliz da vida e sem tempo para mais nada”, os amigos criam um distanciamento. E, de repente, “há um silêncio total e absoluto”. Em paralelo, a mulher vê-se a braços com novos papéis, e tudo parece recair sobre si. Corrobora o lema “é preciso uma vila para cuidar de uma criança” e sente que, sem essa rede de apoio, se torna “duríssimo” concentrar nas 24 horas do dia tudo o que se exige a uma mulher: “Sinto que estou sempre a correr contra o prejuízo”.
Consegue, ainda assim, perceber a diferença substancial entre os primeiros turbulentos meses e o agora, e sublinha a importância de acompanhamento psicológico especializado: “Acho que todas as pessoas deveriam fazer terapia, é a melhor coisa do mundo.” Quando questionada sobre o porquê, vê na aceitação a palavra mágica que mudou o mindset: “Quantos mais anticorpos tiveres em aceitar, mais difícil vai ser.” Tem, ainda assim, alguma resistência em aceitar que tudo mude por um bebé, e defende: “Quanto mais se normalizar e naturalizar o bebé, mais será natural e normal também para o bebé.” E, de todas as aceitações e cedências, não aceita nem cede em mudar a sua vida, sob pena de “ser super infeliz”.
Numa retrospetiva dos últimos meses, e de todo o percurso que passou desde o momento em que se tornou mãe, diz: “Claramente, ainda estou a encontrar o meu espaço, o espaço do meu bebé, o espaço enquanto casal e o espaço enquanto família.” Acredita que a sociedade não está preparada para compreender formas diferentes de se experienciar o turbilhão que é a maternidade, e que, apesar de agora ver “alguns testemunhos de uma outra realidade”, continua tudo a ser “um relato cor-de-rosa, fotos incríveis, uma bolha de amor”. O que nem sempre corresponde.
Ainda não encontrei a fórmula, mas já passei a fase da subtração. Indiscutivelmente, acrescenta.
Para Lorena, de todas as “fichas que foram caindo”, há uma que “ainda hoje assusta imenso: isto agora é para sempre”. Nas contas que nos faz da maternidade, e ao contar-nos os tabus que deveriam cair por terra, confirma o “amor em crescendo” e reitera: “O meu filho é o amor da minha vida. Mas foi uma conquista.”

Descubra também
“Mãe é mãe, mas também é mulher. Também é amiga. Também é filha. Também é tantas outras coisas que não enfraquecem este papel. Mãe é mãe, mas não deixa de ser.”
Ler Poema(poema inspirado na história de infertilidade da Margarida)
Quando fores mãe, vais perceber.
Costumava dizer-me a minha mãe, a meio de uma conversa.
Como se as ações de uma mãe fossem um segredo que só as mães conseguem perceber.
Aos 13 anos percebi.
Percebi que o meu maior sonho estava mais longe do que imaginava.
Síndrome de Turner.
Um nome demasiado complexo para entender,
mas com implicações bastante óbvias.
Não podia ser mãe.
Ou pelo menos, não podia sê-lo da maneira como tinha idealizado.
Como é que se diz a alguém que o seu maior sonho não se vai realizar?
Quando fores mãe, vais perceber.
Costumava dizer-me a minha mãe, a meio de uma conversa.
E eu queria tanto perceber.
Comecei os tratamentos de fertilidade com uma única certeza.
Eu ia conseguir.
Entre testes, perguntas, métodos e conclusões, não havia espaço para dúvidas.
Eu ia conseguir.
Até chegar o primeiro não.
Até ser confrontada com o fracasso.
Reuni-me da coragem necessária para voltar a tentar e fui.
Antes de os tratamentos começarem, perguntaram-me se eu tinha algum pedido.
Tudo o que eu quero é que ele seja saudável.
Foi a única coisa que pedi.
E há realmente qualquer coisa que acontece quando ouvimos o primeiro choro.
Quando percebemos que aquele choro é nosso.
Que veio de dentro de nós.
O meu filho estava ali, nos meus braços.
Veio para mostrar que a espera tinha valido a pena.
Que a persistência tinha valido a pena.
E que afinal, não há nada de errado em sonhar.
Quando fores mãe, vais perceber.
Costumava dizer-me a minha mãe.
A minha mãe, no meio de uma conversa.
E eu percebi.
Realmente, o amor de uma mãe é um segredo.
Que só as mães conseguem perceber.
(poema inspirado na história de depressão pós-parto da Lorena)
Mãe é mãe.
Ouvia eu dizer desde o primeiro dia.
Como se gerar uma vida fosse uma função que nos desvinculasse de tudo o que fizemos até então.
Quando pensei em engravidar, tinha uma ideia muito romântica da maternidade.
Flores.
Mundo cor-de-rosa.
E felicidade extrema eram os versos do poema que escrevi na minha cabeça.
Eu estava a deixar de ser
para me transformar naquilo que queriam que eu fosse.
A maternidade deixou de ser um sonho.
E transformou-se numa das realidades mais duras que já vivi.
Não era nada daquilo que tinha idealizado.
Não era nada daquilo que eu achava que iria viver.
De repente, és só tu e o teu bebé.
Horas e horas, dias e dias.
De repente, transformas-te numa pessoa que não conheces.
E conheces outra.
Que decidiste criar.
Mãe é mãe.
Ouvia eu dizer desde o primeiro dia.
Não.
Mãe é mãe.
Mas também é mulher.
Também é amiga.
Também é tantas outras coisas que não enfraquecem este papel.
Mãe é mãe.
Mas não deixa de ser.
Não foi fácil aceitar que a maternidade não era aquilo que eu tinha idealizado.
Que o amor demorou a chegar.
Mas que agora não para de crescer.
Mas foi preciso ajuda.
Para entender tudo isto.
Foi preciso enfrentar a solidão.
E procurar respostas no colo de outras pessoas.
Costumam dizer que quando nasce um bebé, também nasce uma mãe.
E eu nasci com o meu filho.
Por muito que tenha sido uma semente difícil de semear.
Um poema difícil de escrever.
Mas hoje sei que é o poema mais bonito que já vivi.

Começou tudo pela baixa estatura. Ou a noção de alguém de que a altura dela não era adequada à idade. Havia outros pequenos sinais, que a levaram à consulta com o endocrinologista. Depois, o diagnóstico, por volta dos 12 anos: síndrome de Turner.
Uma doença, numa criança ou adolescente, é “descortinada em pequenas etapas”, como nos explica a protagonista desta história. O percurso dela faz-se através de uma síndrome, mas o desfecho na vida adulta é comum a tantas outras mulheres: infertilidade.
Na altura adolescente, a preocupação de Margarida focava-se mais no dia a dia, na forma como um diagnóstico poderia afetar as suas relações, o seu desenvolvimento – “Era só uma questão de altura, ou era o desenvolvimento cognitivo que também seria afetado?”. Numa fase crucial de “criar relações interpessoais”, define que estava “noutro comprimento de onda”, com questões pouco típicas de adolescentes.

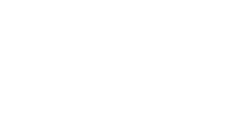
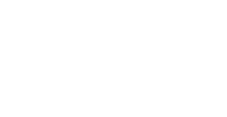
Com acompanhamento especializado, que lhe permitiu a “normalização” das características tipicamente femininas, também a vida de Margarida estabilizou. O instinto maternal – que admite sempre se ter manifestado, mesmo durante a infância – atinge-a em força por volta dos 24 anos, quando, explica-nos, “chegou a idade em que tinha um projeto de vida com alguém com quem fez sentido”.
O mundo da procriação medicamente assistida não a assustou, pelo contrário. Do médico, veio a única opção viável para uma gravidez: a doação de óvulos. A viver no estrangeiro, numa capital europeia, escolheu o seu destino numa pesquisa do Google: pesquisou clínicas e encontrou uma na própria rua, foi “só para conhecer” e acabou por ter o clique com a médica, e em pouco tempo estavam a traçar perfis de dadoras e planos de um futuro a três.
É muito estranho: na mesma cidade, alguém está a preparar um óvulo para mim, ao mesmo tempo que eu estou a preparar o meu útero para o receber.
O processo para a escolha da dadora é, nas suas palavras, suis generis: numa consulta, escolhem-se “as características físicas da mãe do filho”, e o único pedido era “que fosse parecida” com a própria. Depois do match feito, e ao mesmo tempo que se preparava para receber um embrião, alguém algures na cidade estava a preparar os óvulos que lhe chegariam.
Na clínica que escolheram, relata-nos, o ambiente é “extremamente positivo”, com mensagens encorajadoras da parte de todos os profissionais. Se, por um lado, sabe que é para ajudar as mães que procuram algum conforto, Margarida ressalva que, para pessoas positivas, “estão a pôr-nos num pedestal” e que, no fim, “a queda pode ser maior”. Do primeiro embrião transferido, recorda a calma e a paciência que teve até ao dia da análise que determinaria se o embrião tinha vingado. Quando o resultado veio negativo, assume a desilusão: “A gravidez não aconteceu, e aí é difícil. Volta tudo ao início.”

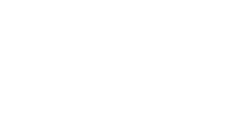
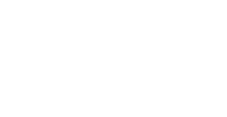
No segundo processo, o embrião vitrificado acabou por não vingar na desvitrificação, e não chegou sequer a haver transferência. Volta tudo ao início. Outra vez. À terceira, Margarida já tinha perdido a calma e a paciência nos tempos de espera, e deu por si “a fazer testes ao décimo dia, testes de sangue, mais testes de urina”. Os resultados, positivos, faziam-na procurar maiores conclusões, que chegam depois de um longo fim de semana: estava grávida. À terceira, foi de vez.
Depois de um percurso atribulado no caminho para a maternidade, a alegria anda de mão dada com o medo. Margarida arranjou uma estratégia para acalmar os nervos e levar uma gravidez tranquila: de duas em duas semanas, fazia uma ecografia, para se certificar que estava tudo bem com o bebé. À parte do nervosismo, relata uma gravidez sem percalços, sem sintomas. Recorda, do período de 40 semanas, “o som que fica desde o primeiro dia” e com o qual, confessa, ainda sonha: o bater do coração do bebé, o mundo em suspenso e uma luz irrequieta num monitor, a acompanhar o batimento cardíaco – “É uma experiência incrível. Incrível.”

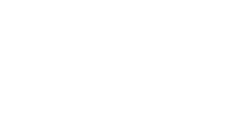
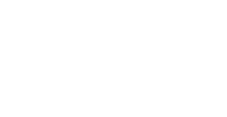
Ainda que com um caminho com um final feliz, e um filho de 3 anos nos braços, sabe que nem todos os processos são tão lineares. Sabe também que, para a sociedade, “há um rótulo de infertilidade” do qual é muito difícil alguém se descolar. Mas acredita que depositar todas as expectativas e toda a felicidade no pressuposto da parentalidade é redutora. Criou por isso, através da sua experiência como mulher infértil, mas também como psicóloga, um programa que “resgata os pais da infertilidade”, ajudando-os a viver o diagnóstico e o caminho, e reencontrando-se como pessoas, ao invés de se reduzirem às hipóteses de terem ou não um filho. “É importante pensarmos em quem é que éramos antes de sermos inférteis, e vivermos com isso até conseguirmos ser mães, seja de que forma for”, sublinha.
Margarida reconhece e admira as várias formas de se ser mãe (ou pai), mas a adoção nunca esteve nos seus planos: “Eu seria muito egoísta se trouxesse a história de uma criança só porque tenho este problema.” E prossegue: “Uma criança não é a resolução de um problema, é saíres de ti, ires ao encontro de uma história que não é a tua, e é isso que tem de prevalecer.” Para a psicóloga, nunca foi uma opção, por altruísmo: “Eu ainda não estava preparada para sair de mim.”
Uma adoção é saíres de ti, e ires ao encontro de uma história que não é a tua.
De todo o percurso, profissional e pessoal, retira algumas conclusões: acredita que “o truque é não nos perdermos”, ainda que um diagnóstico de infertilidade, tal como a maternidade, redefina quem se é. E sintetiza: “A maneira mais feliz de vivermos a infertilidade é sairmos dessa bolha. É um acontecimento na nossa vida. Mas há tantos outros.”

Descubra também
Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A., sede: Praça Príncipe Perfeito, 2, 1990-278 Lisboa. Matrícula / Pessoa Coletiva 503 496 944. CRC Lisboa. Capital Social: 12.000.000 Euros. Registo ASF 1131, www.asf.com.pt.